Uma história sobre quebra de paradigmas
- By : Redação
- Category : Comunidade, Cultura

Maria José Cotrim conta sobre as barreiras que enfrentou em sua trajetória e sobre os desafios que sua militância lhe trouxe
JB: Você poderia começar falando de suas origens, formação acadêmica e trabalho?
MJ: Eu tenho 29 anos e entrei no curso de jornalismo em 2006. Sou do interior da Bahia, uma cidade pequena chamada Igaporã. Lá eu ganhei uma bolsa e vim ao Tocantins para estudar. Começa aí o rompimento de uma história, porque eu venho de uma família de domésticas. A minha mãe, com quatro anos de idade foi morar com um casal muito tradicional da cidade, eu nasci dentro dessa casa e quando fiz 18 anos terminei o ensino médio e mudei para o Tocantins. Aí já mostra um rompimento na família, porque minha avó era lavadora de roupa, minha mãe foi doméstica e eu, a terceira geração, consegui ir buscar uma formação.
Daí eu vim pra cá, estudei, me formei no ano de 2009 e fui fazendo especializações. Trabalho no Estado há 10 anos, desde que cheguei eu trabalho na área. No ano passado eu, juntamente com meu sócio, Marco Aurélio, montamos o veículo de comunicação que se chama Jornal Gazeta do Cerrado.
Desde a época da faculdade eu sempre juntei a militância da comunicação com o social. Quando eu trabalhava, já participava do movimento negro, que na minha época era muito difícil. Agora quem tá na universidade consegue ter uma imersão e participação maior, uma vez que o movimento está inserido dentro da universidade. Na minha época, não. Na sala inteira, por exemplo, só tinha eu.
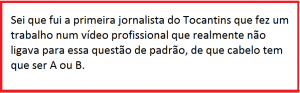
Falar de militância na comunicação, seja ela de gênero ou social, era algo ainda muito incipiente, então foi um momento muito difícil. Aqui no estado também tinham poucas pessoas que encabeçavam isso, e quando eu estudei já comecei a ter esse olhar da militância na comunicação. Na universidade, quando eu estava no ultimo período, criei um site que se chamava “negroemdebate.com.br”. Era um veículo para dar voz aos públicos que não eram pautados pela mídia. Ele foi um marco, foi o primeiro veículo segmentado que teve no estado e isso tudo foi depois que eu conheci o trabalho da COJIRA, a Comissão Nacional de Jornalistas pela Igualdade Racial da qual eu faço parte, que é uma comissão criada em vários estados pros jornalistas terem justamente essa militância na área da comunicação.
Fora da comunicação, desde 2006 participei e representei vários movimentos negros nas conferências nacionais, sempre também na área da militância da mulher. Aí em 2014 eu tive a ideia e lancei a semente para a gente criar o movimento Encrespa-To, em que chamei duas amigas minhas, a Maria Antonia e Flavia Quirino, para começarmos a discutir o que já existia em outros estados, a questão da autoafirmação. Em 2014 marcamos o primeiro evento, eu criei a página, hoje Crespas-To, e a partir desse evento montei um grupo e começamos a levar palestras. O Instituto Crespas já tem 4 anos no estado e são mais de 10 municípios e comunidades quilombolas que a gente foi. É um trabalho voluntário junto com outras meninas.
JB: Você também é coordenadora e idealizadora do Instituto Crespas-To que tem como uma das pautas incentivar adolescentes negras a aceitarem sua naturalidade, o que às vezes pode ser um pouco doloroso, devido aos padrões eurocêntricos impostos. Como foi pra você esse processo de aceitação?
MJ: O meu contato com o movimento negro foi o que me propiciou esse debate da identidade e da autoafirmação. Eu vim de uma cidade do interior onde, como todas as outras, o padrão era eurocêntrico e todas as meninas faziam relaxamento na raiz do cabelo. Tinham várias pessoas de São Paulo e de outros lugares que iam justamente para ganhar dinheiro com essas técnicas de alisamento, porque lá o cabelo bom era o cabelo alisado. Quando eu vim para o Tocantins continuei usando o cabelo alisado. Aí no ano de 2007 eu fui pra Guarujá – São Paulo, numa conferência da juventude negra e chegando lá, vi que todo mundo estava com o cabelo de dread, ou de trança ou com o cabelo crespo, e eu com o cabelo alisado. Eu lembro bem que isso me marcou. Eu olhei e me senti diferente. Tinha uma mulher na porta que fazia tranças, então eu paguei pra ela fazer uma trança no meu cabelo. O movimento foi que iniciou esse processo de compreensão de quem sou eu para mim. Fez a introdução na minha vida desses conceitos. Por que eu usava o cabelo assim? Era por que eu queria ou por que achava que meu cabelo só ficava bom assim?
Também foi um processo de identificação no próprio jornalismo. Não existiam jornalistas de TV que eram assim, que podiam exercer a profissão na sua identidade, com o cabelo normal. Sei que fui a primeira jornalista do Tocantins que fez um trabalho num vídeo profissional que realmente não ligava para essa questão de padrão, de que cabelo tem que ser A ou B.

(Crédito: Arquivo Pessoal)
JB: E como foi essa recepção, teve alguma critica?
MJ: No início não teve muita crítica, até porque tinham poucas pessoas com essa coragem, principalmente jornalistas. As pessoas viam como um ato heroico. Em certo momento eu me vi ditando moda. Eu estava em algum lugar e alguém falava “eu te mandei um convite lá na rede social”, “eu vejo você, gosto do seu trabalho”. Eu já recebi vários depoimentos de mulheres e meninas que falaram que eu fui um espelho para elas. Eu fico muito feliz de contribuir pra esse processo, e realmente precisou alguém começá-lo.
JB: Quais são os maiores desafios encontrados pelas mulheres no Estado do Tocantins (ainda muito carente de políticas públicas) e, principalmente, as mulheres negras ou de regiões periféricas?
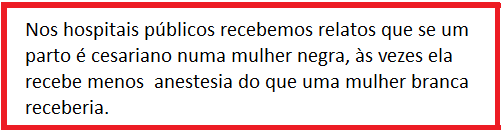
MJ: O desafio das mulheres negras no Tocantins, eu gosto de dizer que é maior do que em outros lugares. Nós temos um estado que, só para começar, tem 74% de sua população negra, segundo o IBGE. A maioria mulher negra, claro, e que infelizmente ainda não tem muito acesso, por exemplo, ao ensino superior.
Agora, com as cotas, com a questão do SISU, dos programas do governo federal, as meninas negras estão começando a entrar na universidade. O primeiro passo para mudar essa realidade é essas meninas deixarem de ter uma gravidez precoce, na adolescência, e já entrarem na universidade, para começar a ter uma formação. Esse é o primeiro passo.
Segunda coisa: existe uma violência institucional muito grande com a mulher negra no Tocantins na área da saúde. Nós ainda somos maltratadas no sistema de saúde, tanto que o SUS fez no Brasil inteiro uma campanha falando dessa questão. Nos hospitais públicos recebemos relatos que se um parto é cesariano numa mulher negra, às vezes ela recebe menos anestesia do que uma mulher branca receberia.
O interior do Tocantins é negro e tem muitas mulheres que ainda estão lá lutando pelo seu papel de protagonismo. As mulheres no Tocantins, infelizmente, ainda estão no centro dos dados de violência. A gente ainda precisa lutar para que venham muitas políticas públicas para amparar a mulher. Fazer com que ela tenha acesso a cursos de capacitação, ao ensino superior, a espaços de poder também. Aqui no Tocantins ainda falta esse espaço. Na assembléia legislativa a grande maioria de políticos são homens e das poucas mulheres, não tem nenhuma negra. A câmara também. Nos cargos de gestão do poder estadual também são poucas. A ocupação de espaços das mulheres negras do Tocantins ainda deixa a desejar.
O Tocantins ainda tem uma particularidade: a grande presença das mulheres negras quilombolas. Elas ainda lutam para serem respeitadas e terem a sua cultura reconhecida. Muitas meninas e jovens quilombolas que ainda moram nos quilombos e têm de vir estudar nas faculdades, precisam de apoio por parte do poder público. Infelizmente a mulher tocantinense está no centro de tudo isso.
JB: As ações e os projetos do Crespas-To tem um foco em escolas e universidades. O público jovem estaria mais disposto a mudar a realidade em que vivemos, permeada de preconceitos e opressões?
MJ: Nós, enquanto filosofia do Instituto Crespas, acreditamos que precisa ser feito um trabalho não só para os jovens. Vamos a escolas da educação infantil e ensino fundamental também. Procuramos trabalhar esse público: crianças, jovens e adolescentes. É um público que ainda tá em formação, que está consumindo informação da mídia o tempo inteiro, está em um momento de descobrir a sua identidade, o porquê que o cabelo é assim, qual a cor que ele tem. Estão em um processo de negação ainda e a gente visa trabalhar em todo esse processo. Somos bem recebidas nos lugares que vamos. As escolas realmente são o foco. Tem meninas que nem acreditam que elas podem ter o cabelo daquele jeito, não entendem como funciona o processo de cuidar do cabelo, que é algo muito simples, cada um pode fazer.
Acredito sim que a base para mudar esse cenário de preconceito e de discriminação vivido diariamente está nos jovens e nas escolas. O apelido, por exemplo, é a maior marca que qualquer criança ou adolescente pode ter, um apelido por causa do cabelo, por causa da cor. Se você está dentro da escola trabalhando isso, ajuda muito. Os professores também precisam estar atentos a essa abordagem e precisam fazer esse debate. Existe uma lei, a lei 10.639, que obriga o ensino da cultura afro na sala de aula, mas a gente sabe que falta experiência dos professores, falta o conteúdo.
O nosso trabalho é voluntário e todas as pessoas que nos ajudam no Instituto é de forma gratuita, por isso a gente tem muita dificuldade de agenda. Os municípios chamam e não conseguimos ir, às vezes, porque todo mundo trabalha. A receptividade é sempre muito boa, as pessoas curtem a página e continuam conversando conosco.
JB: Você acha que as mulheres, em geral, estão se tornando mais conscientes dos seus direitos?
MJ: O feminismo tem evoluído muito. Tem mulheres que são avessas ao feminismo, pois entendem que ele é uma luta contra os homens. Na verdade, não é. E existem mulheres que acham que não precisam do feminismo pois o entendem como privilégio. Feminismo não é privilégio, pelo contrário, é uma luta pelo respeito em todas as áreas.
A mulher negra é mais criminalizada ainda, a maioria é doméstica e elas estão à margem da sociedade, infelizmente. E ainda tem a questão da identidade que é sempre descaracterizada com fatores de preconceito.
Eu creio que estamos em uma época na qual as redes sociais ajudam a disseminar essa semente do feminismo. É bom ver adolescentes adotando esse discurso. Quando uma menina posta uma foto com uma frase de autoafirmação é também um ato de feminismo, ela está exaltando suas qualidades, seu papel no mundo. Isso torna as mulheres mais fortes e conscientes, para que não estejam à mercê de todos os problemas.
JB: Branca de turbante pode?
MJ: Eu já fui alvo dessa polêmica porque o Instituo Crespas tem a parte das palestras e conscientização, e a parte das oficinas. As oficinas são um braço do Instituto para ajudar as meninas que não se sentem contempladas nos salões de beleza, que ainda não estão preparadas para lidar com o cabelo crespo. A gente ensina a fazer a fitagem, procedimentos caseiros, hidratação com cremes baratos que dão resultado. E tem também a oficina de turbante e todo evento que eu vou tem várias pessoas na platéia, e a gente faz em todo mundo. Tem menina do cabelo liso, por exemplo, e a gente faz uma amarração para esse tipo de textura também.
Uma vez eu coloquei uma foto na rede social e uma estudante comentou “branca usando turbante?” Eu, Maria José Cotrim, enquanto militante não creio que a gente tenha que pegar o turbante como um acessório de beleza e proibir alguém de usá-lo. Nós quando fazemos em crianças e mulheres brancas, fazemos no intuito de disseminar a cultura negra. É um acessório de origem africana que tem que ser respeitado, tem que quebrar os estereótipos em torno dele. Não é segregando determinado grupo de usá-lo que se consegue essa quebra. O turbante está além de tudo isso.
Existe um discurso de que é uma “apropriação cultural”. Espera aí, a gente não quer difundir a cultura negra? Por exemplo, nós fomos ao município de Santa Rosa e lá a prefeitura levou os turbantes. Foram mais de 50 crianças saindo para casa, crianças negras e brancas, com o turbante na cabeça. Imagine quando elas chegaram em casa, como foi a reação da mãe, elas explicando tudo que aprenderam. Para nós o importante é disseminar a consciência do que é o turbante, isso não tira a origem dele. É mais importante disseminar e tirar o preconceito do que ficar delimitando quem usa ou não.
Se tiver uma mulher branca que usa o turbante fazendo tratamento químico, ele é sim um acessório que dá para ser usado. Você faz uma amarração quando ela tá passando por um problema de saúde. Nós, enquanto Crespas, já fizemos uma oficina de amarração pra quem tinha câncer no HGP, as mulheres estavam carecas e no ano passado fui lá e dei uma oficina para elas, juntos com as outras meninas.
Vamos sair dessa de que turbante é apropriação cultural de alguém. Turbante tem que ser respeitado por todos. Agora, eu também entendo o lado das pessoas que questionam, dizendo: “quando o turbante está numa branca, é bonito, é moda. Quando está numa negra, ela é macumbeira, isso ou aquilo”. Isso é o quê? É mais um fruto do preconceito enraizado que tem com o turbante. Eu achei a polêmica muito boa e o que tem de restar dela é o quê? O que é o turbante e pra que ele existe? Sem ficar delimitando quem vai usar e quem não vai. Vamos cuidar para que cada pessoa que usa o turbante seja ela negra, branca, azul, ou roxa, saiba a história daquele acessório e o porquê de estar usando. É isso.
Por: Vivian Carine
Foto Destaque: Arquivo Pessoal



Nenhum comentário